É
bem cedo que se toma hoje o pequeno-almoço. Dizem-nos que temos 5 horas de
viagem pela frente, e se queremos chegar ao destino pela hora de almoço,
devemos então partir bem cedo. Estamos prontos e falta apenas o motorista e o
carro. Aguardámos. Aí vem um carro… não, não é este. Aguardamos mais um pouco,
sento-me na mala com todos os meus pertences e pouso a mochila que me pesa nas
costas. Sinto o nervoso miudinho querer aproximar-se, as perguntas sem
respostas que sempre me martelam a cabeça vão e voltam. Que terá acontecido?
Terão voltado atrás na intenção de nos deixar ir? Ficaremos cá mais tempo? Não
me consigo distrair, mas eis que entretanto chega o motorista de sempre e o
Jipe de sempre para nos levar a Chunar. No pouco inglês que se consegue perceber,
explica-nos que só hoje de manhã lhe disseram que teria de ir a Chunar, mas ao
que consigo constatar, e que mais tarde confirmei, ele sente-se feliz por fazer
esta viagem e faz questão de dizer isso mesmo a toda a gente que encontra. Lá
partimos, apesar de atrasados temos de regressar ao escritório 5 min depois da
saída. Ao telemóvel dizem-nos que nos faltam uns papéis. Mas que papéis! La
vamos buscar os ditos papéis e retomámos o caminho para casa de um indiano hipocondríaco
que nos acompanhará na viagem. Com toda a sua calma e todo o tempo do mundo
convida-nos a entrar em sua casa. Uma casa, para mim, como tantas outras, com
entrada direta para a sala de jantar, ao fundo uma porta para a minúscula
cozinha, à esquerda uma porta para um quarto, o dos miúdos, e à direita o
quarto do casal. De salientar que todas as divisões são separadas por uma
simples cortina. O chão é em cimento, coberto a espaços por carpetes, no teto
uma lâmpada ilumina toda a sala, as paredes são onduladas e amareladas, e o
exterior é quase todo ele em tijolo, daquele tijolo que só se encontra por cá.
Na rua estão as vacas que por aqui se passeiam e fazem da rua como sendo sua,
um vizinho traz comida para esta pequena cinzenta que aparenta ser mãe daquela
que come de outro prato mais lá à frente. Do outro lado da estrada fica uma
escola, e cá de fora consigo ouvir o coro de vozes das crianças, não as consigo
ver e ainda bem, pois o rego de esgoto e lixo a céu aberto que fica entre a
estrada e a parede da escola ia-me fazer sentir ainda pena daqueles pobres
inocentes. Assim consigo imaginá-los imunes e protegidos destes mosquitos que
transportam todo o tipo de doenças que caibam dentro deles. Partimos então por
uma estrada que nunca vi, é a estrada em sentido oposto ao aeroporto de Kajuraho.
Tentei de inicio captar tudo o que visualizava para poder reproduzir por
palavras, mas a verdade é que ao fim de poucos quilómetros me consegui
aperceber que seria tudo igual. As vacas presas nas árvores, os discos de uma
espécie de lama e palha que secam ao sol e que não me atrevo a perguntar o que
são, a miséria, as caras de fome, a pobreza, as lojas ambulantes, a fruta à
venda sem condições nenhumas, os garagens de reparação de bicicletas, as
buzinadelas de quem passa, o mesmo cheiro, o mesmo pó e os mesmos camiões.
Faz-me confusão como são os indianos capazes de caberem em espaços tão
minúsculos e ao mesmo tempo terem a força e a destreza de algo que parece
impossível. Dentro de um carro, em tudo semelhante àqueles de caixa aberta que
não necessitam de carta e que levam normalmente o condutor e um passageiro,
cabem aqui 7 pessoas, que eu conseguisse contar. Mais à frente um sujeito de
bicicleta, montado na bicicleta, transporta 6 botijas de gás. Uma em cada punho
do guiador, mais duas de cada lado na parte de trás junto ao selim. Acredito
que as botijas estivessem vazias, mas mesmo assim é, para mim, um feito que
merece referência. Acabo por cair no sono. Não um sono muito pesado porque o
indiano hipocondríaco tem uma voz muito aguda e que me provoca uma espécie de
ruído nos ouvidos, e porque os buracos e lombas da estrada (que me fizeram por
mais que uma vez bater com a cabeça no tejadilho do jipe) também não me deixam
sossegado. Após a pausa para esticar as pernas, numa berma da estrada onde se
cozinha ao ar livre e onde existem umas camas de vime ou arame para quem se
quiser deitar, voltámos à estrada. Desta feita vou no banco da frente, o
indiano foi lá para trás contar a história cronológica dos Deuses Hindus.
Confesso que sentar-me no banco da frente esquerdo do jipe, sem pedais e sem
volante me faz confusão, mas continuemos. O motorista avisa que esta estrada é
a boa, a próxima será pior ainda, pergunto-me como mas rapidamente percebo que
é por isso uma boa altura para dormir. Mais buraco, menos lomba, lá fui
fechando os olhos a espaços e de uma das vezes que os abri encontrei-me no meio
da selva. Sinto-me no cimo de uma montanha. Vejo à frente um enorme vale, onde
fica então Chunar. Descemos uma estrada que se serpenteia formando “esses”
quase impossíveis de atravessar por certos camiões, a verdade é eles
atravessam, não têm outra estrada, mas também é verdade que avariam. Não é um
bom sítio para avariarem os camiões ou haver um acidente, se é que há bons
sítios para isso. Aqui, onde não há rede de telemóvel, onde se veem marcas de
derrocadas não muito antigas, é talvez o pior sítio para se ficar parado. Isto
para não falar nos assaltos e nos ataques feitos durante a noite por quem mora
aqui misturado com os macacos. Realmente esta estrada é pior que a última. Mais
uns solavancos, mais umas curvas e mais uns buracos, lá acabamos de descer a
montanha e chegámos, hora e meia depois, à fábrica de Chunar. Nada de diferente
de Rewa ou de Baga à primeira vista. Os mesmos uniformes, os mesmos portões, as
mesmas lombas, a mesma sinalização e os mesmo nomes. Chegados à Guest House,
somos recebidos com um carinho a que já não estava habituado, confesso. Sinto
que existe aqui um ambiente mais calmo, descontraído, um maior sossego, coisa
que já não sentia há vários dias. São cerca das 14 horas, já passa um pouco da
hora de almoço e a fome é tanta. Um tenente coronel reformado, recebe-nos à
porta e senta-se para almoçar connosco à mesa. O bigode farfalhudo branco e
curvado para cima nas pontas, os óculos redondos e o cabelo grande fazem dele
uma pessoa que transmite boa disposição. Apesar da fome apertar, ninguém avisou
o cozinheiro que nós não comíamos nada picante. Temos de comer à força toda
comida indiana. Eu fiquei-me pelo arroz branco, cozido e sem sal, sem sabor
nenhum, o famoso “roti” também chamado de “chapati” e uns feijões extremamente
picantes que só comi porque tinha mesmo muita fome. Pedimos que para o jantar
nos preparassem massa, sem qualquer tipo de picantes. O senhor do bigode
explicou isso ao empregado em hindi. Comemos a sobremesa em seguida, pela
primeira vez na India saboreio uma laranja, que saudades eu tinha de uma
laranja, tomamos café e assim que pedimos licença para nos levantarmos da mesa
informam-nos que a massa demora apenas 1 minuto a ser servida… quem é que não
percebeu que era só para o jantar? Não consigo comer massa. Desculpem, mas não
consigo mesmo… Meia hora de descanso para nos restabelecermos da viagem
atribulada e é tempo de conhecer a nova fábrica, as novas gentes, o novo mundo,
o novo projeto. Apresentado a um Indiano com uma cicatriz enorme na parte de
trás do crânio que se prolonga até ao inicio da espinha dorsal, espero pelo
jipe que me levará até ao escritório que servirá de quartel. Percebo que a
distância nem é assim tanta, cerca de 500 metros, em terreno plano e a direito
que se podem muito bem fazer a pé. Mais um indiano, outro e outro e mais um
ainda. Gente muito nova com nomes muito diferentes dos que eu utilizo
normalmente e que me dificultam a sua memorização. Na verdade é impossível
decorar os nomes deles sem que estejam associados a alguma mnemónica. Após os
cumprimentos da praxe, lá voltamos ao terreno. Percebo que a organização aqui é
bem maior, mais exigente e mais apertada. Percebo também que o trabalho deles
está extremamente atrasado, queixam-se eles da falta de conhecimento das
tarefas que deviam executar e queixo-me eu da minha falta de sorte. Ainda assim
transmitem-me alguma confiança, uma confiança que nos últimos tempos eu não
conseguia encontrar, uma vontade de triunfar, de conseguir acabar. Sinto uma
lufada de ar fresco, ganho ânimo e sinto-me capaz de coordenar os trabalhos em
parte não desiludindo quem confiou em mim. Levo essa confiança para a mesa do
jantar onde a comida já não é picante mas a água também não é engarrafada, onde
me sinto tratado com uma ponta de carinho e onde provo uma espécie de pão como
o que como em casa. Regresso ao quarto, onde não tenho internet, e apercebo-me
que no meio destas aventuras todas os meus telemóveis estão sem rede. Estou
incontactável. De cada vez que perco o sinal de rede nos telemóveis, tenho de
selecionar a nova rede manualmente, não o fiz depois de descer o monte onde não
existia rede, percebo que nenhuma das mensagens que enviei para casa a dizer
que tinha chegado bem ao destino foi entregue. Entro em pânico e apresso-me a
resolver o problema. Toca o telemóvel finalmente e sinto um aperto enorme no
peito. Do outro lado soluçava-me uma voz que temeu que tivesse corrido alguma
coisa mal. Enchem-se os olhos de lágrimas, aperta-se o peito, doí a alma e
desejo vir embora a todo o custo novamente. Perdi momentaneamente a boa
disposição que tinha ganho. Apetece-me desistir e “teletransportar-me” para os
braços quentes e aconchegadores da dona da voz. Não o consigo fazer, vou dormir
com o remorso, com a dor e com a frustração. Dói porque te amo.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)



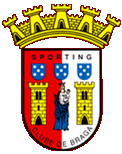


Sem comentários:
Enviar um comentário